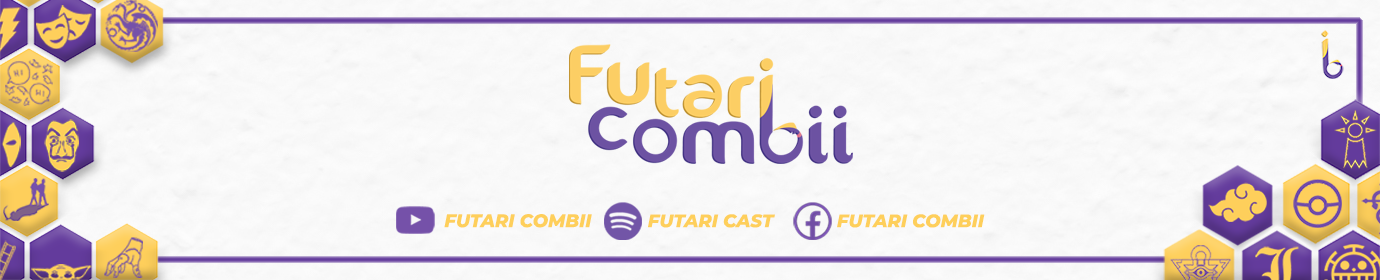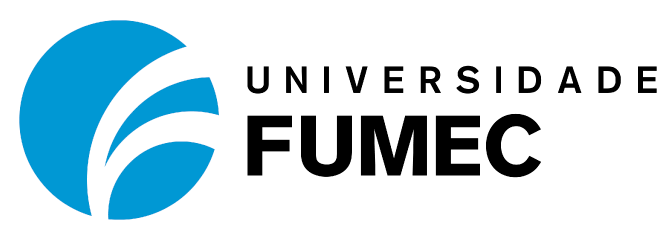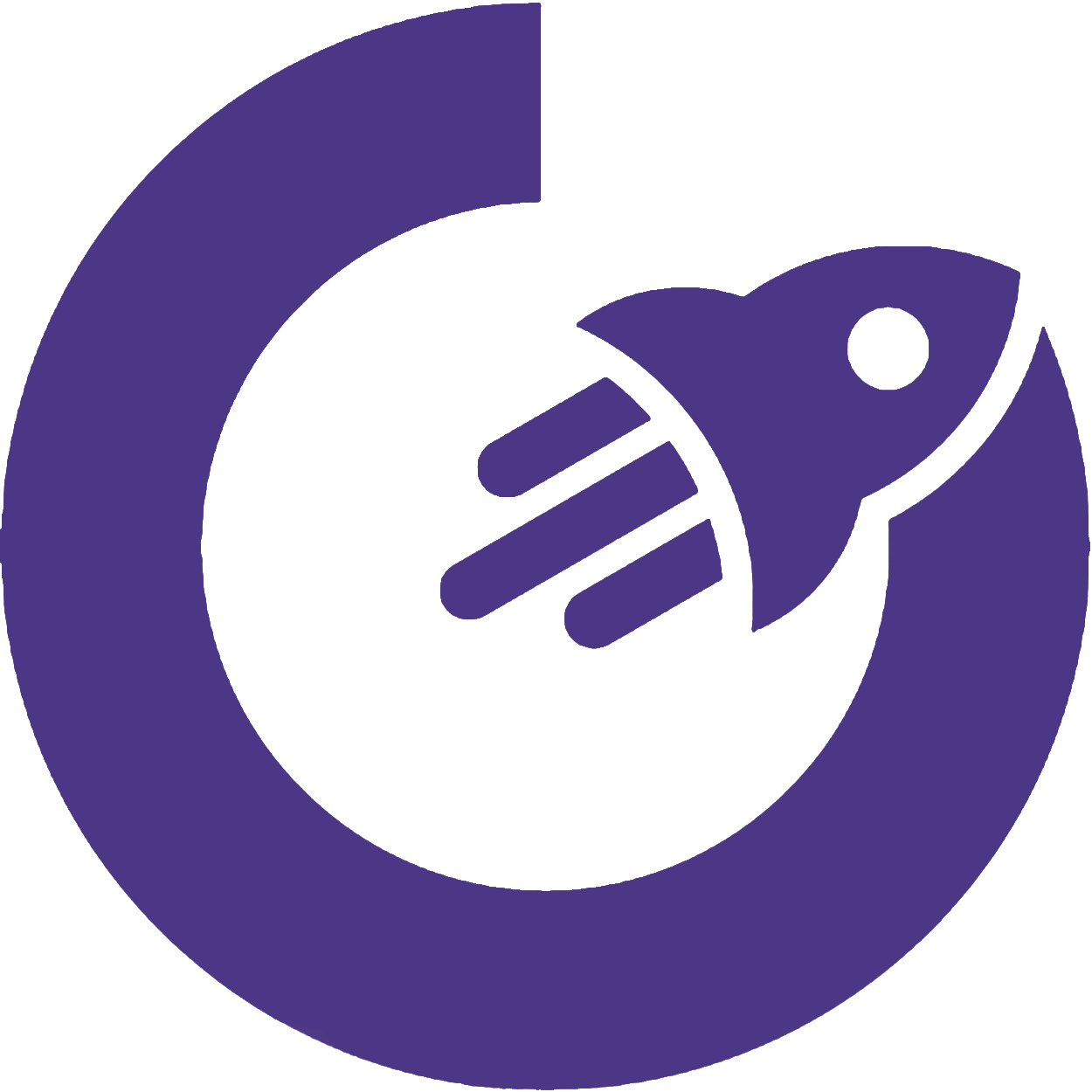Crítica: Resident Evil
“Resident Evil” está se tornando uma franquia complicada de se adaptar, e desse vez a bomba está no colo da Netflix.

Sendo advogado do diabo, particularmente vejo que a culpa está mais nos fãs do que nas produções em si. A série de filmes, desde o início, tinha um pé na galhofa e só abraçou ainda mais com o tempo. O mais recente filme também está nessa esfera da vergonha alheia. E, sinceramente, não podemos dizer que os jogos fogem disso. E, por incrível que pareça, esse série é uma das mais sérias. Se você assistir qualquer produção esperando uma cópia fiel ao material original, começou errado.
Dito isso, há méritos e deméritos. A Umbrella estava com uma péssima imagem após os acontecimentos em Raccon City. Sendo assim, migrou da área de armamento para medicamentos. Seu mais novo produto é o “Joy”, uma espécie de antidepressivo que promete milagres. Mas em sua composição, temos o famoso “T Vírus”, inativo, mas com chances de se tornar agente dependendo da dose. Os testes eram feitos em animais, e quando as filhas do principal pesquisador tentam expor isso, a primeira peça do dominó é puxada para o apocalipse zumbi.

A estrutura dos episódios mescla o passado e o presente, contando as duas histórias ao mesmo tempo. Isso quase nunca dá certo, e aqui é mais um dos exemplos de falha. Por conta disso, mal lembramos das personagens, já que é comum ligar o nome à pessoa física. E, pelo mesmo motivo, parece que a história não é contada, já que o que mais sobram são pontas soltas. Sobre os efeitos especiais, são os melhores que a franquia já teve em adaptações.
“Resident Evil“, no geral, não é ruim, mas também não é bom.