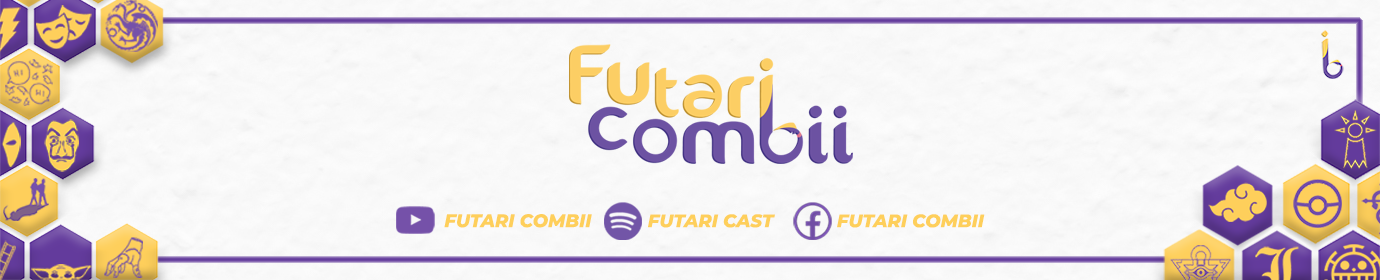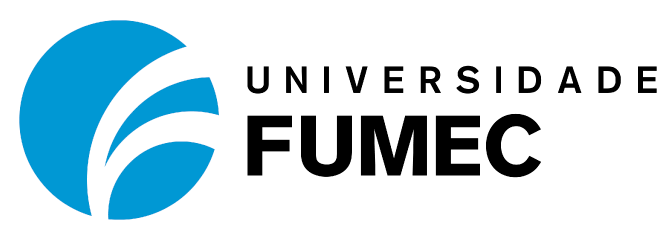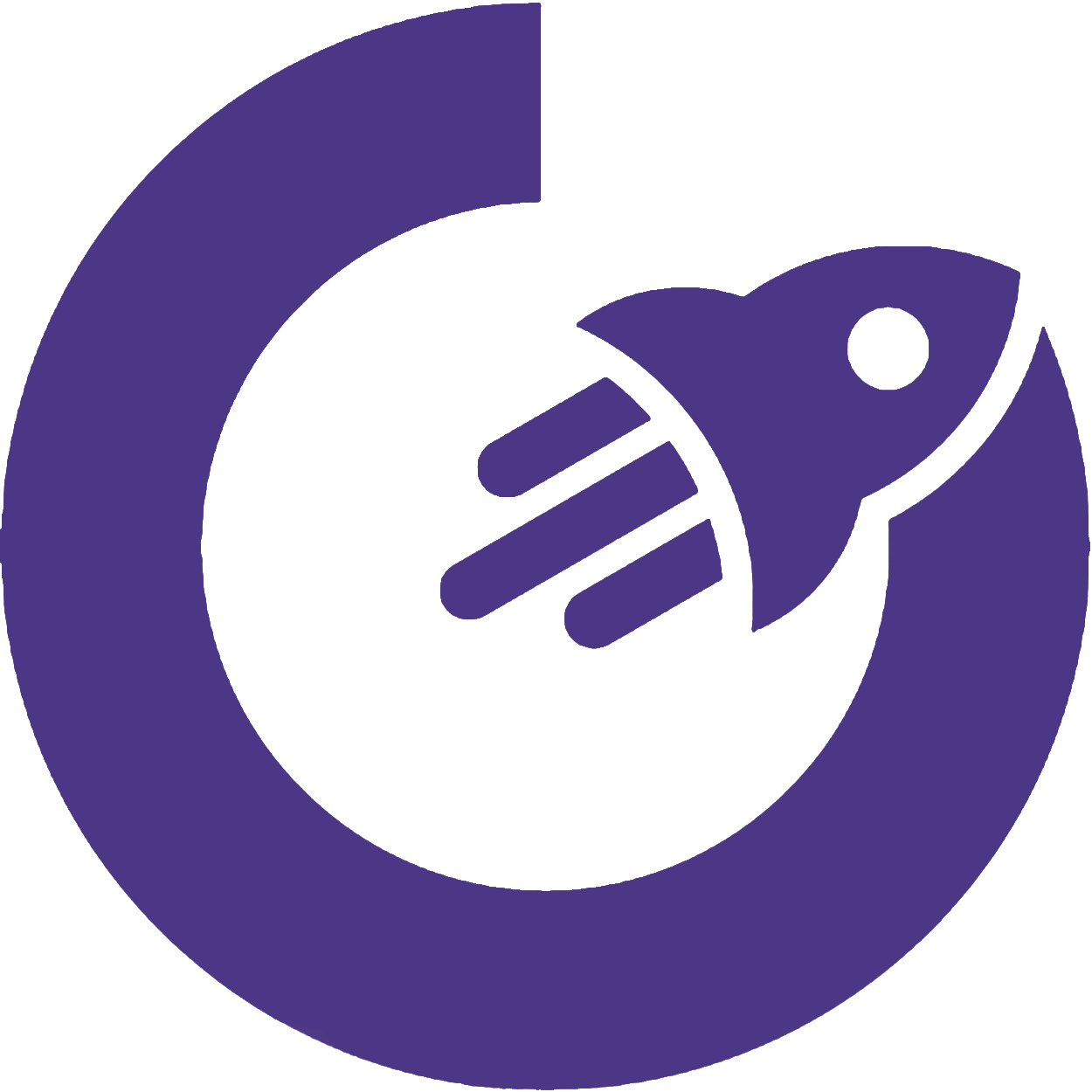Crítica: Babygirl
“Babygirl” é um filme da Diamond que, em meio a muitas adaptações e produções “hot”, ele não é um pornô de 2h.

Romy é uma mulher casada, tem duas filhas e CEO de uma grampe empresa de tecnologia. Contudo, apesar de parecer contente com sua vida, a parte afetiva e sexual tem deixado a desejar. Isso começa a mudar quando um programa de mentoria de sua empresa a deixa com Samuel, um jovem que antes cruzou com ela na rua, acalmando um cachorro. Com indiretas e diretas, a relação dos dois evoluí para uma dinâmica sexual de dominação, onde Romy se entrega a Samuel e juntos exploram os lados dessa confusa relação.
Sexo é um tabu. Falar sobre o assunto, apesar de bem mais fácil atualmente, antes era apenas em piadas. Mas se sexo é esse tabu, o prazer feminino e fetiches é algo praticamente inexistente. Mas tudo isso é contraditório quando franquias como “365 Dias” e “50 Tons de Cinza” se consolidaram ao explorar o BDSM.

Ao longo do filme ele está consciente de seu apelo sexual, mas explora isso trazendo algo além. Romy é a CEO, mas gosta de ser mandada na cama. Fetiche esse que, por vergonha, não conta ao próprio marido. Quando Esme, ficante de Samuel e assistente de Romy descobre, também usa de uma dominação de valores. Afinal, em um mundo onde a mulher no poder tem que ter poder, mas ser diferente de homens, esse comportamento a faria cair.
“Babygirl” usa o apelo sexual para atrair o público e mostrar que uma relação de dominação vai muito além do que ocorre na cama.