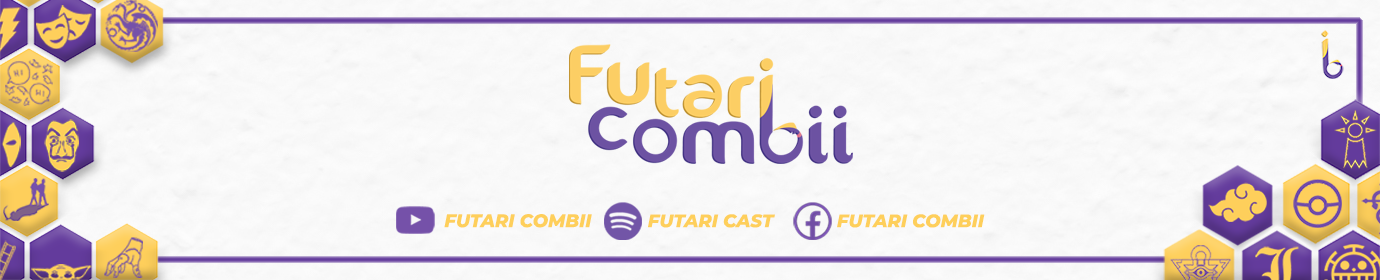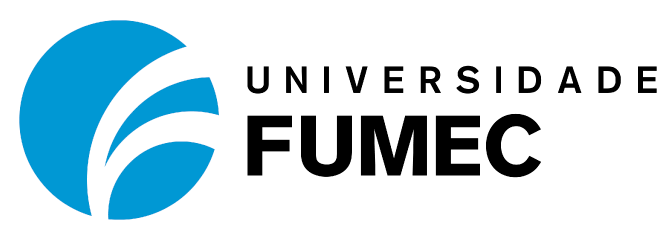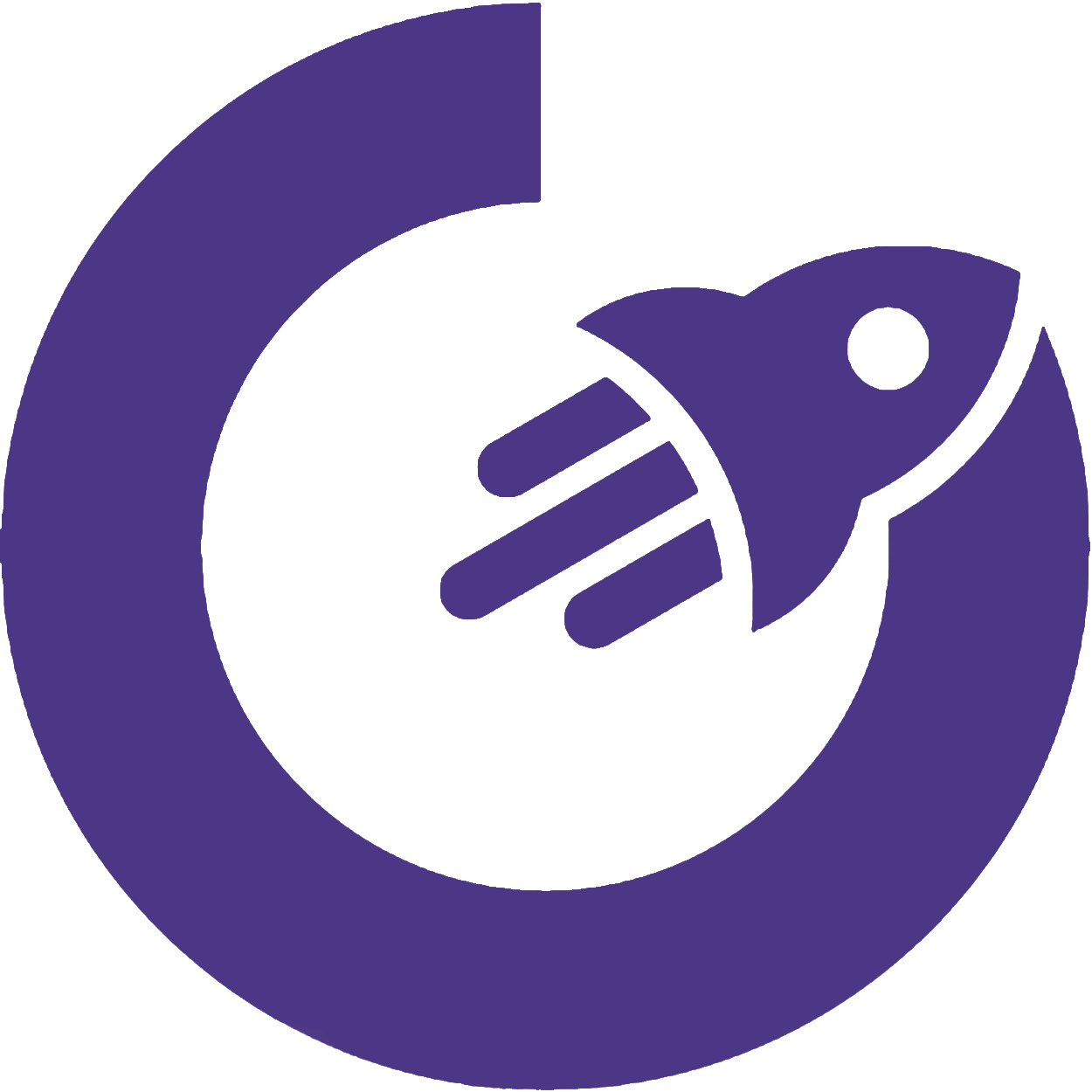Crítica: The Last Of Us
“The Last Of Us” chega ao final de sua primeira temporada, com nove episódios, e entra para as produções mais vistas da HBO.

O ano é 2003 e a humanidade encara o que parece ser seu fim. Num país remoto, pessoas começam a atacar umas as outras e quando estudadas, se descobre a infecção por um fungo. Mas a descoberta vem com uma triste realidade, não há possibilidade de cura. Nesse dia, Sarah e Joel começam sua rotina normalmente, mas a noite é fria e cheia de perigos. Na fuga, Sarah é morta. Vinte anos depois, ele agora está com Ellie, uma jovem que é imune e sua missão é levar a garota até um grupo que pensa ser capaz de sintetizar a cura.
A série é uma típica série de apocalipse. Aqui, além da sobrevivência temos a esperança da cura com Ellie. Mas, ainda sim, é uma série de apocalipse. É difícil não comparar a “The Walking Dead”, por mais que essa outra tenha caído em qualidade. Porém, é importante lembrar que no início ela era um sucesso, igual ou até maior.

A série é adaptada de um video game, e isso traz consigo um público e expectativas. Já bastante dramatizado, aqui temos muito mais de “nós” e menos de infectados. A série não é sobre atirar em zumbis, mas sim sobre nossas relações e aspectos de humanidade. O romance de um casal, uma relação de ajuda mútua para o bem da comunidade ou o carinho paterno que surge e aos poucos ajuda a superar uma perda. Não uma, várias.
“The Last Of Us” brilha ao adaptar o material original. Porém deixa uma reflexão: será que precisamos esperar um apocalipse para passar a dar mais valor aos aspectos que já existem?